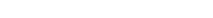“Corpo negro é sempre criminoso e, se é criminoso, tem que ser abatido.” A frase é impactante, mas relata uma máxima confirmada pelos jovens presentes no debate sobre cidades, raça e território, realizado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da UnB durante a Semana Universitária. A atividade aconteceu sob organização do coletivo negro Calunga, da FAU.
A sentença foi dita por Maíra Brito, mestra pela UnB e integrante do Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica e Atlântico Negro (Maré), vinculado ao Centro de Estudos sobre Discriminação e Desigualdade da Faculdade de Direito (FD) da UnB. Ao lado dela, outras três participantes do núcleo levaram reflexões sobre o valor do corpo negro nos espaços urbanos de Olinda, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Teresina.
“O espaço informa a raça dos corpos que ali habitam. A cor da pele diz onde aquela pessoa tem o direito de habitar”, comenta Laís Avelar, doutoranda na área de direitos humanos. Ela passou dez meses em campo para sua pesquisa de mestrado e estudou o impacto das Bases Comunitárias de Segurança no Grande Nordeste de Amaralina, região de Salvador.
Para ela, a decisão sobre onde instalar as bases levou em conta não somente índices de violência, mas a prevalência de população negra no local. Regiões adjacentes com mais índices de crimes não receberam tantas unidades de policiamento. A pesquisadora explica que os relatos ouvidos corroboram a ideia de morte social.
“Ela acontece antes mesmo da morte física e vem do constrangimento. Está presente no fato de uma banda musical ser interrompida e colocada na parede para tomar baculejo na frente do público. Acontece quando um tiro para o alto é disparado em um ponto de venda de espetinho, para dispersar as pessoas.”

SÉTIMA ARTE – Ainda na FAU, a exibição do filme Branco Sai, Preto Fica, de Adirley Queirós – egresso da Universidade –, deu início a um debate sobre a sensação de pertencimento da população de periferia em Brasília.
O filme do circuito alternativo foi reconhecido em várias categorias de cinco festivais e retrata tiros em um baile de black music na periferia de Brasília, que ferem dois homens e os deixam com sequelas físicas.
“O filme traz muito essa sensação de não pertencimento, a segregação é muito clara”, opina Mariana Leite Lemos, aluna do segundo semestre de Audiovisual.
O sucesso de bilheteria Pantera Negra, lançado em fevereiro de 2018, foi o ponto de partida para o grupo do Laboratório de Etnologia em Contextos Africanos (Ecoa), do Departamento de Antropologia (DAN) da UnB, levar a alunos de ensino médio e ao público universitário o debate sobre representações do continente africano e seus desdobramentos para a autoidentificação da população negra.
Formado por alunos da graduação e da pós, o Ecoa levou ao público alguns fatos curiosos sobre o filme. O idioma falado em Wakanda (país fictício do filme) é o Xhosa, língua Bantu Nguni e um dos idiomas oficias da África do Sul. A Dora Milaje, guarda real do rei T’challa (o Pantera Negra), formada exclusivamente por mulheres, é inspirada na guarda do reino de Daomé, atual república do Bênin. A última dessas mulheres morreu no século XX.

“É interessante observar a representação dessas mulheres, que são fortes e altivas. Fogem do estereótipo da mulher negra brasileira, que é a Tia Nastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo”, opinou Vinícius Venâncio, mestrando do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social.
Outro ponto que intrigou os presentes foi o sotaque do inglês falado no filme. Fernanda Iizuka, aluna de Direito, foi uma das pessoas que notou esse aspecto.
“Me incomoda desde o início esse sotaque forçado de africano. Se eles têm língua própria, por que não fazer o filme todo nela?”, questionou. Alguns dos presentes concordaram e ressaltaram que, apesar disso, o alcance do filme presta um serviço à representação negra, sobretudo às crianças, que passam a ter um referencial de herói não-branco.